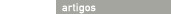 |
 Sonhos para um réquiem (de país)
Sonhos para um réquiem (de país)
|
|
Na edição passada, a reboque da retrospectiva dos filmes lançados no Brasil em 2003, escrevi sobre três filmes de grandes diretores americanos (Sobre Meninos e Lobos, de Clint Eastwood; Gangues de Nova York, de Martin Scorsese; e A Última Noite, de Spike Lee) que deixavam bastante às claras a crise no imaginário norte-americano sobre sua própria função e especificidade no mundo, suas origens, mas acima de tudo, seu momento atual. Pois bem, mal passaram-se dois meses deste 2004, e o circuito já nos trouxe dois filmes (O Último Samurai, de Ed Zwick; e Cold Mountain, de Anthony Minghella) que pedem uma volta a estes temas, onde a inversão da ordem das palavras no título do texto é bem menos brincadeira de linguagem do que sintoma da apreensão exatamente oposta desta crise nestas obras mais recentemente lançadas aqui. Diga-se, aliás, que não são filmes em si desprovidos de qualidade (a sequência toda que envolve Natalie Portman em Cold Mountain é muito boa; o retrato dos samurais como figuras dúbias de difícil leitura no filme de Zwick também), mas cujo interesse muito maior é mesmo sua inserção num momento histórico como sintomas a serem lidos.
Se nos filmes citados no mês passado, esta crise no imaginário era exposta em filmes amargos, confusos em suas impressões e, acima de tudo, em nada certos nos seus finais do que esperar como consequência do que enunciavam, estes filmes agora analisados partem de pressuposto diferente: se há, sim, uma crise (esta é inegável), se os EUA precisam sim olhar para si mesmos e sua "gênese" como nação e recolocar-se perante certos fatos, não restará dúvida aos seus finais, porém, de que há um ideal a ser alcançado, ideal este nunca colocado em risco por essa crise. Minghella e Zwick fazem os típicos filmes dos liberais americanos: conscientes de que há algo errado consigo mesmo, capazes de olhar eventualmente para além de si mesmos, mas necessitando sempre do conforto da idéia de que há um heroísmo inerentemente BOM a ser resgatado desta crise. Por isso é que seus filmes parecem menos réquiens de um sonho, e sim sonhos a partir dos réquiens. São filmes que parecem afirmar que, afinal, "vai ficar tudo bem".
É interessante que ambos os filmes usem um mesmo momento histórico como ponto de partida e, por assim dizer, "pecado original" da nação como ela é hoje: a Guerra Civil. Segundo os dois filmes (nos flashbacks de O Último Samurai que assombram o herói, e na sequência inicial da batalha que dá o tom a Cold Mountain), foi nos campos de batalha da Guerra Civil que os EUA perderam para sempre a sua "inocência", marcada a ferro e fogo nesta batalha fratricida. Mais interessante ainda é perceber que, para além da circunstância histórica semelhante (embora as consequências do trauma sejam exatamente opostas: uma viagem ao exterior, uma viagem ao interior), os filmes usam um mesmo gênero cinematográfico: o do épico histórico. O uso deste gênero é de interesse, porque trata-se de uma das mais típicas representações do específico da grandeza dos EUA pela via do seu cinema: "só nós somos capazes desta pujança", parecem afirmar os filmes - com isso sendo, eles mesmos, provas de que "vai ficar tudo bem". O épico histórico (romântico ou heróico) perdeu espaço nos últimos anos para outras expressões (a fantasia, o filme de ação, o filme de horror, a comédia paródica) como os gêneros típicos do cinema americano, e sua retomada (que Gangues de Nova York fazia em chave completamente diferente - operística, anti-naturalista, dúbia em suma) é, em si mesma, um sintoma a ser notado.
Mas, claro, são épicos da crise: o herói tem sua resistência quebrada e duvida de seu próprio heroísmo, o coloca à prova (mas, nós mesmos nunca duvidamos dele: como duvidar, afinal, de Tom Cruise, de Jude Law?). Não há mais espaço, indicam os filmes, para a inocência do herói romântico clássico. Mas, mesmo com todas as suas fissuras de (auto-)imagem, nunca deixam de ser heróis: em constante crise de consciência - portanto ainda intocados na sua bondade, no fundo. Por isso mesmo, se os tempos não permitem que os heróis se afirmem com facilidade, é importante afirmar os vilões - porque aí, por oposição, os heróis sobressaem mais uma vez. Não por acaso, tanto o tenente ou o empresário japonês em O Último Samurai, quanto o xerife local e seus asseclas em Cold Mountain, em muitos momentos nos remetem a figuras de histórias em quadrinhos, tão caricaturalmente "maus" que são. Este é o máximo da sutileza a que se pode chegar o liberal americano clássico: se há dúvidas quanto ao nosso próprio heroísmo, não resta dúvidas quanto àquilo que devemos nos colocar contra. Não por acaso os personagens dos vilões serão expostos a mortes catárticas ou ridicularizações sem tamanho: o herói se reafirma ao estar contra estas encarnações do Mal (basta pensar na dificuldade de se separar "bons" e "maus" nos três filmes do texto passado para entender a profunda diferença de aproximação).
A narração em off também surge como elemento importante nos dois filmes: ela mesma é um elemento mitificador, e ajuda a deixar claro desde o início que se tratam de contos exemplares, localizados num passado. "Aprenderemos algo sobre nós mesmos e nossa resistência à crise" parecem afirmar a cada frase narrada no off. Que é quase tão mitificador, aliás, quanto a escalação do elenco: na introdução de Cold Mountain fica claro que Nicole Kidman e Jude Law sabem que interpretam arquétipos - ele, o herói; ela, a donzela. Minghella também não é bobo, e deixa claro o tempo todo que o filme é justamente sobre isso: sobre a perda da inocência destes mitos - perda esta, no entanto, que será suprida por um final que os redima, que os reafirme. Desnecessário falar muito mais sobre Tom Cruise e sua imagem em O Último Samurai dentro desta mesma idéia - basta lembrar o quão arquetípica é sua persona cinematográfica pelo trabalho fantástico de Stanley Kubrick na demolição completa desta em De Olhos Bem Fechados.
Minghella, aliás, parece o mais auto-consciente entre os dois diretores sobre o filme que se propõe a fazer. Seu uso das imagens "épicas", simbólicas mesmo, beira o paroxismo. Seu filme é o tipo de filme que não se envergonha de usar cavalos e crianças em cenas de batalha para simbolizar a ferida dos inocentes, ou de constantemente voltar a uma bandeira americana num rio de sangue, por exemplo. Ele vai ainda mais longe e tem a coragem (ou cara-de-pau, fica por conta do freguês o julgamento) de usar fusões entre uma pomba e um tiro disparado ou uma passagem de foco da chuva que cai na janela para o rosto de uma mulher, para indicar a morte do seu pai. Imageticamente, Cold Mountain é o próprio inventário da crise do imaginário clássico norte-americano - e não por acaso terminará com um almoço no campo e uma câmera que sobe por entre as árvores, restabelecendo a paz que parecia ter se perdido. Cicatrizes há, mas o tempo cuidará de torná-las menores.
De sua parte, Zwick aposta no "exotismo" da cultura japonesa para compor sua mitologia heróica. Esta busca da beleza em outra cultura, enquanto a própria imagem americana parece ser destruída, é típica de uma crise de auto-imagem. "Serão os japoneses melhores do que nós?" - ou, por outra, serão eles os inocentes que viemos corromper com nossos valores?. Parece ser isso que indica a cena do massacre dos samurais pela metralhadora. No entanto, aqui também há espaço para o final redentor: o norte-americano vai descobrir no outro sua própria grandeza, e termina admirado, influenciando o próprio imperador do Japão - restabelece-se a influência americana, só que "para o Bem". Também como em Cold Mountain, após a destruição épica, volta-se nos planos finais, como sempre, para a felicidade da pequena vida (que nunca pareceu tão ilusória - no cinema onde vi o filme, ouviam-se os risos de uma platéia descrente), do ambiente das relações pessoais, familiares (berço do mito americano): Cruise resolve sua crise, a crise do Japão, e ainda arranja para si uma família para o "hereafter" (o "para sempre" dos contos de fada).
Um ponto que também impressiona nos dois filmes é a filiação a uma vertente recente (muito forte pós-Soldado Ryan) do cinema "pacifista sujo de sangue". Ou seja: a guerra surge como "espetáculo do horror" - no entanto somos fascinados por ela e pela beleza que suas imagens podem criar. Enquanto cineastas como Scorsese ou Eastwood (herdando uma tradição que remonta a Peckinpah, entre outros) deixam claro seu fascínio pela violência, e a marca indelével desta na alma americana, Minghella e Zwick, via Spielberg e tantos outros, tentam negar seu interesse e afirmam "denunciar" o horror da violência. Porém, o fazem por meio da sedução do domínio técnico do cinemão americano - aparentemente inconscientes do paradoxo de sua intenção, e do quão óbvia ficam suas obsessões mais profundas com a imagética desta destruição e morte.
Também impressiona a força de um modelo dramatúrgico-cinematográfico, que resta, para além de qualquer crise, intacto: o uso dos "comic reliefs" em Cold Mountain (interpretados por Renée Zelwegger e Philip Seymour Hoffman), o exagero da trilha sonora em O Último Samurai (que torna a já ruim cena do espancamento de Cruise na chuva algo de patético). Mesmo a estrutura dramática de Cold Mountain, que parece diferenciada a princípio (afinal, é uma história de amor que passa três quartos do tempo de projeção com os amantes separados), não só é tão velha quanto a Odisséia, quanto de fato serve a outros clichês: a presença de Zelwegger como a simplória que vem ensinar a sofisticada de que os "valores da terra" são superiores aos da "alta cultura" (nada mais americano), a superação dos obstáculos por Law e Kidman levando a um inevitável reencontro.
Se é inegável que este reencontro acontece ante uma impossibilidade trágica (olhas os gregos aí de novo) da realização romântica, é falsa qualquer idéia de um "final infeliz": sintoma de crise sim, mas de superação também, afinal a semente (que não podia ser mais óbvia: uma criança) da vida daquele homem foi plantada - e o futuro será feliz. Neste sentido, é sintomática a frase que Zwick coloca na boca de Cruise em determinado momento - quando ele diz que "não presume conseguir entender sua vida ou o seu significado". Se ele não entende, o filme deixa claro que Zwick entende e quer que nós também a entendamos: afinal a compreensão de vidas humanas como lições modelares, didáticas, é o que mais une os dois filmes e sua desejada relação com a platéia (principalmente a americana). E a lição a ser tirada é clara: a coisa está feia, mas a retidão da alma americana superará estes momentos e suas próprias contradições inerentes, expurgará suas ervas-daninhas, e sairá do outro lado ainda melhor do que era no início, porque testada pela vida e melhorada por ela.
Sonho ou delírio terminal? O que importa é tentar dar sentido ao que acontece à sua volta, pois quando os modelos antigos de heroísmo não mais funcionam, bem, é hora de criar outros.
 Eduardo Valente
Eduardo Valente |
|
| |
|
|
|
|





