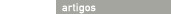 |
 As mil máscaras de dr. Rogério, cineasta
As mil máscaras de dr. Rogério, cineasta
|
|
Rogério crítico. Rogério Sganzerla nasce para o cinema escrevendo. Jovem demais, sem contatos demais, afastado demais dos centros produtores, a caneta e o papel são sua primeira forma de fazer cinema. Já nasce polemista, tentando fazer valer uma certa noção de cinema, ágil, moderna, contra outra, pesada, modorrenta. Menos fazer o cinema tender mais para os lados de Fuller ou Mann do que para Antonioni, e mais uma necessidade de tirar o cinema da esfera da seriedade literária. Um embate, então, não exatamente com Antonioni propriamente dito, mas com uma certa forma de recepção desse cinema grave, um impulso reacionário que (ainda) insiste em transformar uma arte do século XX em teatro do século XIX. E quando até Godard passa a ser incorporado pela crítica mais sisuda, é hora de partir para Mack Sennett. Com o cinema brasileiro é o mesmo: uma vez instituídos e institucionalizados os uma vez independentes cineastas do cinema novo, é hora de expurgar em conjunto o grupo inteiro (exceção única: Glauber) em nome do cinema sujo e, naquele momento ainda, inaceitável de José Mojica Marins e Watson Macedo. Enquanto os realizadores do cinema novo em meados dos anos 60 tentam entender o que foi o fenômeno da seca de vinte anos atrás e tentam transformar o retirante no mito do brasileiro por excelência, Rogério Sganzerla, crítico, cineasta de palavras, tenta entender o que é o fenômeno urbano. Ainda quando passa a fazer filmes, Sganzerla ainda é o melhor crítico... de seus próprios filmes. Na falta de alguém pra dizer, foi ele quem melhor disse: ainda é preciso entender o poder do rádio no Brasil, a força das chanchadas, o poder da difusão coletiva e do imaginário das grandes cidades, alimentadas pelas mesmas fontes de comunicação (rádio, tv, cinema) mas respondendo diferentemente a cada estímulo (porque as individualidadaes contam). Fim do intelectual e do herói positivo, orgânico instrumento da consciência de sua classe (e, por isso, "legítimo" representante dela). Nasce o Bandido. Nasce a Luz Vermelha, ou melhor, a Boca do Lixo.
Rogério pop. Ainda não foi dada a devida atenção ao gesto de ir filmar na Boca do Lixo, quando aquilo ainda não era nenhum pólo de cinema. Corpo estranho, em alguma consonância com poetas mais afastados do cinema novo (Viagem ao Fim do Mundo de Cony Campos é o único filme da época a partilhar o interesse e investigar a criatividade nova da cultura "de massas", como se falava à época), mas ainda assim absolutamente inesperado um petardo vindo de uma área que menos se esperava, de um estreante promissor, certamente, mas que entregou aos olhos do público um filme que definitivamente não se conformava com aquilo que era esperado dele. O Bandido da Luz Vermelha não pôde ser amado senão com senões. A Mulher de Todos, então, é o maior passo atrás de todos os tempos. O primeiro transcria Welles e Godard para o Brasil, mas o segundo utiliza o ideário tropicalista para fundir toda a cultura de mau gosto do cinema brasileiro popular (machismo, piadas sem graça, grosseria, descontinuidade, musical) e misturar tudo isso assimilando junto o repertório mais novo herdado pelos cinemas modernos dos anos 50-60. O diálogo não era com os intelectuais, mas com os públicos dos cinemas ditos populares. A crítica se ressente: há genialidade, mas ela não é para eles. Cria-se então a imagem que para sempre colou em Rogério Sganzerla – colou-se, vale dizer, à revelia de sua verdadeira trajetória e ainda mais à revelia da força de seus filmes –: a de gênio futuro (ou, futuramente, a de gênio incompleto). Ignorando artisticamente tudo isso, Sganzerla fez os dois grandes filmes do final da década de 60, e por mais que seja difícil aceitar a auto-proclamada invenção por ele do cinema moderno no Brasil, é muito justo afirmar que se há um cinema de "maio de 68" no Brasil, esse cinema é o de Rogério Sganzerla. "Pop" em sua acepção mais verdadeira, a de popular, esses dois filmes purgam os costumes da primeira metade do século XX e apontam os valores da segunda metade.
Rogério belair. O encontro com Julio Bressane e a mútua admiração que nasce imediatamente no momento em que Rogério assiste a O Anjo Nasceu e Julio vê A Mulher de Todos, no Festival de Brasília de 1969, florescerá numa das experiências mais interessantes e radicais de cinema em todos os tempos. A Belair filmes, produtora formada pelos dois realizadores, realizou seis filmes de longa-metragem em três meses, três filmes para cada diretor. Os filmes de Sganzerla desse período diferem sobremaneira dos filmes anteriores (ao menos os dois que é possível ver hoje, Copacabana Mon Amour e Sem Essa Aranha, uma vez que nao há cópia exibível de Carnaval na Lama): não há mais a fluência dos quadrinhos, o humor do rádio ou personagens glamurizados. Não é só uma estética dos planos-seqüência e da improvisação dos atores que assume o lugar dos filmes hipermontados e "de roteiro" dos anos 60 (sim, como Matou a Família e Foi ao Cinema e O Anjo Nasceu, as filmagens de A Mulher de Todos e O Bandido da Luz Vermelha atenderam a roteiros muito bem estruturados). muita gente só ouviu, em O Bandido da Luz Vermelha, o "a gente avacalha". Em Sem Essa Aranha e Copacabana Mon Amour, a gente "se esculhamba", sem apelação. O subtexto nacional é um fio presente em toda a obra de Sganzerla, e o subdesenvolvimento é condição definitiva para sua visão de mundo. Disparado o mais paulo-emiliano dos cineastas (soube fazer do subdesenvolvimento sua condição estética e fazer brotar a transcriação da incapacidade de copiar), Sganzerla segue de forma vertiginosa a penúria do artista de terceiro mundo (não só a dele, mas a de todo artista de terceiro mundo), vive seus dramas mesmo antes da adversidade bater à porta – o que elimina a razão de qualquer argumento que jogue um recalque nascido na maturidade contra um talento de juventude: ambos estavam lá desde o início, é impossível estar vivo tanto em O Bandido da Luz Vermelha quanto em O Signo do Caos – e advoga desde cedo a impossibilidade do cinema no Brasil. Paradoxo dos paradoxos, desse testemunho nasce uma das mais belas obras de cinema que já tivemos a oportunidade de vislumbrar. Pois vislumbrar é a palavra certa para o que tivemos de seus filmes até agora. Ainda não os vimos, ainda não assistimos a eles. Tarefa para o futuro, talvez. Quanto à Belair, como em geral com o cinema de Rogério Sganzerla, há tanto continuidade quanto ruptura em relação às fases anteriores: ganha-se alguma coisa, mantém-se alguma coisa, abandona-se alguma coisa (não acreditamos numa aufhebung sganzerliana): os filmes se tornam mais áridos, mais inóspitos, a veemência aumenta (mas também recrudesce o Brasil), o cinema passa a ser uma arte mais tênue – a imaginação dá lugar à ação.
Rogério exilado e repatriado. Talvez quando/se pudermos travar contato com o longa(?)-metragem realizado por Sganzerla no Marrocos, Fora do Baralho (1971), e observarmos com mais sistemática o conjunto de roteiros escritos e não-filmados, além do conjunto de textos produzidos, o período entre a Belair e Nem Tudo É Verdade fique menos turvo. Certo é que foi nesse momento que uma perspectiva de carreira – cineasta assalariado ou empreendedor realizando periodicamente um longa-metragem que entraria em cartaz pouco depois de feito e renderia seus dividendos – dissolveu-se definitivamente. Depois de Fora do Baralho, são sete anos até realizar Abismu, filme que demorará cinco anos para ser lançado. Nesse mesmo período, Sganzerla se voltará para a pesquisa da genialidade de certos artistas que acabaram tornando-se obsessão: Jimi Hendrix (Mudança de Hendrix, 1977), Orson Welles (Welles no Brasil, 1977), João Gilberto (Brasil, 1981) e Noel Rosa (Noel Por Noel, 1983). O signo da maldição paira sobre o artista visionário, que morre (Jimi, Noel), tem que mendigar para trabalhar (Orson) ou é um eterno incompreendido do mundo (João). Abismu, se acreditamos no que o próprio Rogério diz, é "o último filme da Belair", e é o único longa-metragem que o cineasta fará em um período de quinze anos (entre 1971 e 1986). Que quer dizer "último filme" da produtora com Bressane? O último clamor pela radicalidade da experiência associada a um conteúdo popular (comediantes de televisão, figuras tipificadas), exigência e confiança no olhar do público e o diálogo com o humor popular, sempre positivado como fonte de gênio (carioquice do catarinense-paulista Sgan) e novidade. Refúgio existencial no artista: o mundo já não sendo mais habitável (continuidade de Sganzerla), é na figura do artista que devemos procurar a beleza das coisas, mesmo que elas insistam em impedir o próprio artista de progredir (ruptura de Sganzerla). Assim nosso herói poderá partir para uma nova fase.
Rogério se disfarça, Welles/Noel. Noel Rosa em 1991 é um tuberculoso. Orson Welles, a partir de 1986, é um artista impossibilitado de exprimir seu gênio. O artista (continuidade) ainda é aquele que faz valer a pena estar no mundo, mas é aí que dá a mudança provavelmente mais bonita em toda a carreira de Rogério Sganzerla, e aí especificamente em Tudo É Brasil, obra-prima sonegada e incompreendida. Orson Welles tem seus magníficos Ambersons mutilados, tem seu projeto de filmar os brasileiros abortado pela ignorância do Dops, oops, DIP, mas isso não impede que através dos olhos do artista o próprio mundo possa voltar a fazer sentido. Tudo É Brasil é uma verdadeira reconstrução de como poder voltar a acreditar e achar beleza no mundo, uma espécie de Meditações cartesianas mais radicais ainda, em que à dúvida absoluta na verdade substitui-se o ceticismo de viver, que vai aos poucos dando origem a um deslumbramento em todas as instâncias: a praia vista de cima em travellings com a música de João Gilberto, os fogos de artifício no carnaval, os elementos rítmicos do samba isolados e explicados para/por um Orson em estado de graça... Ainda existe um Brasil intocado, selvagem e inexplorado (Camila Pitanga em O Signo do Caos), a ser continuamente descoberto e redescoberto pelo artista, por mais que os predadores do mundo ainda insistam em nos fazer crer que não. Welles não é um alter ego, tampouco Noel: o artista é tão-somente um magnífico macguffin necessário para redescobrir o mundo ali onde ele parecia não fazer mais sentido. No máximo da dor (O Signo do Caos) ou do deslumbramento (Tudo É Brasil), é ainda o mundo que se recupera, um mundo que se habita na arte (sempre Orson, João, Noel, Ary ou a novidade que é Mingus) mas também na afetividade dos amigos e da família (Otávio Terceiro, Helena Ignez, Djin Sganzerla). A aposta de Rogério na arte reconstitui toda a esperança na vida. Eis aí uma postulação inédita entre arte e vida, infelizmente abortada pela doença e pela capitulação final. Mas a morte, até a morte também é vida.
Rogério hoje. Sganzerla continua hoje com suas máscaras. Ex-futuro gênio, ex-gênio passado, ex-enfant terrible, ex-Wellesmaníaco, o doutor Rogério das mil faces é hoje objeto do oba-oba de uma classe artística-jornalística profundamente hipócrita, mas também é um artista milionário que legou sua herança a uma infinidade virtual de admiradores reais que nutriram-se e ainda se nutrem de seus filmes e prospectam seu cinema para o futuro. Eis que o realizador de A Mulher de Todos finalmente pode ser considerado melhor de todos. Rei da ruptura, ele tem hoje e terá continuamente, até o fim dos tempos, sua vingança sobre Pindorama. Ele sobrevive.
 Ruy Gardnier
Ruy Gardnier |
|
| |
|
|
 |
 Paulo Villaça é
o bandido vendo filmes de binóculo.
Paulo Villaça é
o bandido vendo filmes de binóculo. |
|
|
|
|





