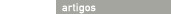 |
 DOCUMENTÁRIO
DOCUMENTÁRIO
|
|
Impressiona saber que já muito novo, rapaz nascido no interior de Santa Catarina, Rogério Sganzerla já escrevia sobre cinema no Estado de São Paulo. E conhecia bem o assunto. Textos de 1964/1965, presentes no seu livro Por um Cinema Sem Limite, demonstram como o então crítico era um cinéfilo dedicado e familiarizado com as teorias que estavam moldando a produção da época, fazendo dela uma das mais criativas da história do cinema. Em São Paulo, já naquele momento a grande cidade brasileira, com suas salas de exibição de rua, parece que Rogério assistia aos filmes das mais variadas procedências e das mais variadas escolas. Para ele era clara a distinção entre o cinema clássico, comercial, proveniente dos grandes estúdios norte-americanos, e o cinema livre, de autor, que na época estava se impondo com as novas ondas que se espalhavam pelo mundo. Tudo indicava ser um ambiente fascinante em que o jovem futuro realizador manteve contato com profissionais que, como ele, estavam pensando cinema ou já filmavam e davam uma chacoalhada na produção nacional. A Boca do Lixo, lugar que mais tarde seria a locação do seu primeiro longa O Bandido da Luz Vermelha, começaria a fervilhar, e o cinema novo já estava consagrado como movimento de vulto e reconhecido no exterior.
Os diversos aspectos que diferenciavam o cinema moderno, como Sganzerla o denominava em seus artigos, do cinema clássico eram resultado de um avanço tecnológico e de tomada de consciência dos realizadores frente à realidade em que viviam. Sua admiração por Welles e outros cineastas como Godard, Antonioni ou Hawks está clara nas suas constantes citações. Nos filmes destes realizadores e de outros, ele encontrava os princípios que estavam fazendo com que o cinema alcançasse uma emancipação política, temática, estética e caminhasse em direção a uma nova forma de produção que poderia ser mais representativa dos anseios típicos da sociedade em ponto de ebulição da época. No terceiro-mundo carente de recursos materiais mas extremamente necessitado de formas de expressão e auto-afirmação, o "cinema livre" seria a melhor maneira de compreender e construir uma imagem autônoma e mais relacionada com a verdade social.
Se o aparato técnico do cinema era cada vez mais acessível, isso seria então de grande valia para os produtores dos países periféricos. Como aliás, já estava sendo. E a curiosidade teórica de Sganzerla logo foi deslocada para a atuação prática. Afinal, as promessas do cinema novo de descortinar a realidade não se concretizaram. O país continuava possuindo suas diferenças e, acima de tudo, não atingiu seu apogeu cultural totalmente independente. Éramos terceiro-mundo e continuamos a ser. A saída, muito clara no Bandido, era avacalhar e radicalizar rumo a um cinema o mais livre possível e que tirasse proveito das ferramentas teóricas e estéticas que permitisse chegar a ele.
Na São Paulo dos cinemas e no mundo em que suas imagens são a tradução mais aceitável da realidade, não bastava apenas discutir essas imagens. Era preciso construí-las, tomar a rédea dos eventos fazendo acontecer o que Sganzerla considerava o certo. O Cinema é coisa séria, como diz um dos protagonistas de Documentário, e somente através dele se chegará a algum lugar.
Com uma câmera 16mm, dois atores e Andrea Tonacci como operador, o jovem crítico transforma teoria em algo concreto e vira o jovem cineasta audacioso de que o país tanto carecia. Com esse seu primeiro curta, Documentário, Sganzerla é extremamente fiel a seus ideais. Filme de uma simplicidade absurda, barato, tudo nele faz parte de um projeto extremamente bem fundamentado. A referência constante e direta ao cinema como principal construtor da vida já aparece no argumento banal de dois amigos vagando em uma tarde tediosa, percorrendo cinemas e pensando no filme e na sessão a que irão assistir. Durante o perambular dos personagens, o diretor recheia todo o fiapo de ação com os diálogos geniais que podem até ser um prenúncio do que um pouco mais tarde encontraríamos em O Bandido da Luz Vermelha. A conversa é cotidiana, por vezes sem muito sentido, mas sempre se volta para a situação por que passam: que filme ver, onde e quando. De porta de cinema em porta de cinema, os amigos falam tanto de garotas e grana quanto de cinema italiano e Samuel Fuller, pois a isso se restringe a sua realidade, e toda a sua compreensão dela. O cinema ganha importância inquestionável. Se os personagens andam, a câmera sempre anda atrás deles. É uma câmera na mão, mexida, que capta o deslocamento no que ele tem de essencial, negando uma formalização exagerada, preocupada em mostrar a ação como um todo. Dessa atitude documental surge a metalinguagem indispensável para provocar no cinema a reflexão sobre ele mesmo. Trata-se disso e mais nada. O resultado final sujo é impregnado de realidade. Não é a avacalhação propriamente dita, mas está longe de ser a busca pelo cinema perfeito e ideal. A vida como ela é por aqui não permite que os realizadores se dediquem a essa cruzada. Ou melhor, ela não pode existir por ser resultado de outras condições, e por servir a outros propósitos. Nós temos que nos dedicar ao cinema possível, aquele que dá para fazer e não necessariamente ao que se deseja fazer. Fazer e ver o que fazemos é a prioridade e, como diz um dos rapazes mais para o final do filme, temos que nos contentar, o cinema é o que está na tela.
Documentário funciona como inventário das incertezas da época. Depois desse filme ficou bem claro para que lado Sganzerla correria, não só rompendo com o cinema ideal, mas se convertendo em um agitador-fazedor de filmes disposto a colocar o seu conhecimento crítico e teórico a serviço da evolução dessa arte, mostrando suas possibilidades, indicando caminhos, colocando idéias em prática. Sua carreira de diretor começou com uma obra-prima e até o fim foi coerente com o seu início.
 João Mors Cabral
João Mors Cabral |
|
| |
|
|
|
|





