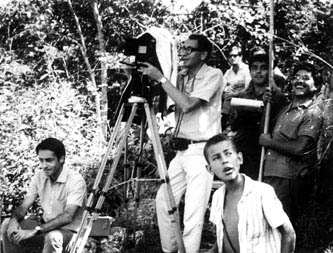
Um dos aspectos mais celebrados do cinema novo foi a sua capacidade de projetar, esteticamente, uma visão totalizante do país. Os míticos espaços geográficos e a construção de uma idéia de futuro no interior dos filmes articulavam-se à ideologia particular de seus autores, afinada a um ideal revolucionário. Tal intenção progressista, no entanto, muitas vezes era expressa através de um recurso de linguagem clássica, bastante convencional: a metáfora dos personagens que seguem adiante rumo ao horizonte da mudança ou da luta. Não tardou para que esta imagem (bem como a alegoria totalizante) fosse sendo posta em crise pelos próprios cinemanovistas e, com maior agressividade, pela geração posterior ao cinema novo. Ainda assim, a retórica de um "futuro esperançoso" encontrou espaço em vários filmes ao longo dos anos 70 e 80 (sendo talvez emblemático o final de Bye Bye Brasil) e ainda hoje - como bem apontou o pesquisador Arthur Autran no texto "Cinema e História nos anos 90" (Contracampo n. 26) - servem de apoio a diversos filmes conformistas, através da imagem de "um belo sol no horizonte" a exprimir que "a palavra de ordem é manter a esperança".
O primeiro filme de longa-metragem dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, O Padre e a Moça, apesar dos evidentes laços cinemanovistas, mantém um grau de distância e de independência que, à primeira vista, desconcerta e intriga. Trata-se de um filme enclausurado, e desta clausura participam não só os personagens (o padre recém-chegado à cidadezinha, a moça Mariana, seu tutor Honorato e o farmacêutico bêbado Vitorino) como a própria paisagem do interior de Minas. Joaquim Pedro realiza um filme repleto de elipses, de imagens não vistas, de saltos temporais que ocultam vergonhas, mistérios e segredos, de sussurros que equivalem a berros desesperados. Mesmo a fotografia de Mário Carneiro - trabalhando essencialmente com planos médios, distanciados - conduz a uma sensação de asfixia na qual os personagens se debatem internamente.
Um tom particularmente pessimista envolve o tema da entrega amorosa. Muito embora se possa encontrar no filme de Joaquim inúmeros outros veios temáticos - em especial o da estagnação social e econômica -, sua maior riqueza está na esfera das relações entre os personagens. Mas enquanto o drama concentra-se na direção de atores, o comentário crítico traduz-se na câmera. Esta dupla orientação talvez seja a responsável por muito do que exista de misterioso e de "proibido" em O Padre e a Moça. Pois, no caso, a "proibição" é também dupla: não se prendendo ao drama amoroso, o filme também não cai, em momento algum, na síntese sociológica. É, portanto, um filme muito pouco "consumível", e neste sentido, essencialmente poético.
Com todos estes aspectos diferenciais, O Padre e a Moça tem como ponto alto da narrativa uma seqüência cuja imagem principal é justamente a que me referi logo no princípio (o do horizonte como espaço mítico/concreto de libertação e de luta). No momento em que Mariana decide fugir com o padre, os dois ganham a estrada e seguem rumo a um futuro incerto. No entanto, Joaquim Pedro tenciona ao máximo este que é um dos recursos dramáticos mais caros ao cinema novo da primeira fase. E é curioso notar como esta tensão revela muito das contradições inerentes à dramaturgia e à ideologia cinemanovista. Utopia, espaço de revolução, perplexidade ou movimento de retorno e confinamento?
A indefinição, manifesta na estrutura de O Padre e a Moça, foi assumida, com bastante rigidez, até, pelo próprio Joaquim Pedro na época em que o filme foi lançado. Em 1966, numa entrevista a Alex Viany1, Joaquim reconhecia que o filme servia a ele como um "processo de conhecimento, de solução de problemas". Mas declarava-se também como um artista sem uma posição ideológica geral definida, como "uma pessoa em dúvida, em movimento", buscando entender o mundo através de atitudes críticas. Com bastante sinceridade - e personalidade - Joaquim Pedro admitia a crise que mais tarde se tornaria flagrante na maior parte dos filmes cinemanovistas entre o golpe de 64 e o AI-5. Não por acaso, Joaquim realizaria uma das melhores obras sobre o drama da intelectualidade de classe média no Brasil, Os Inconfidentes (1972).
A longa seqüência da fuga do padre e da moça pela estrada rumo a Diamantina representa, portanto, não só o drama amoroso, o conflito entre a culpa e o desejo, a liberdade e a castração (a moralidade de mãos dadas com a estagnação), como revela, também, esta trajetória crítica da análise de Joaquim Pedro sobre a função transformadora do cinema.
O impacto desta seqüência da estrada funciona como uma ruptura no conjunto do filme, um conjunto dominado pelas zonas escuras, pelo ar carregado dos atores (em especial Fauzi Arap como o bêbado Vitorino e Mário Lago como Honorato, o único comerciante de S. Gonçalo das Pedras, espécie de alma-penada do coronelismo mineiro). Na estrada, os espaços amplos dos horizontes rochosos, a luz sobre o vestido branco de Mariana e sobre a batina preta do padre, os belíssimos e apaixonados planos que beijam o rosto e as costas nuas de Helena Ignez e a incessante movimentação dos atores e da câmera (movimentos conflituados pela inteligente montagem de Eduardo Escorel), são em tudo diversos do clima geral de enterro que domina a cidadezinha, com seus habitantes retorcidos e beatas desgrenhadas.
Mas, ainda assim, há um clima trágico neste ambiente iluminado, e o tal horizonte (resumido, no filme, pela distante cidade de Diamantina) parece nunca chegar a um termo. Símbolo maior desta tragédia que paira sobre o casal é o som off agudo dos pássaros (gaviões?) que sobrevoam este "deserto", num agouro sonoro que não é dos mais cordiais. A ausência de música ao longo da fuga (a trilha é composta apenas pelos diálogos do casal e por estes pios agudos) ajudam a criar um clima ainda mais tenso a toda esta seqüência.
O padre segue na frente, em ritmo rápido e decidido, fugindo não só de seu destino, da cidadezinha, como também da tentação que é Mariana. Esta, segue atrás e vai perturbando o padre com seguidas perguntas: "por que o senhor não olha pra mim?" Espécie de Simão no deserto, o padre vê em Mariana uma encarnação diabólica e divina e ela, por sua vez, se assume com esta particular dualidade, num dos raros momentos de humor que conseguem escapar de O Padre e a Moça: Mariana, sorriso irônico, não vê problemas em seguir adiante com um padre, mesmo que as lendas confirmem que vêm daí as "mulas-sem-cabeça". Neste momento é impossível não pensar no fantástico destino desta moça que se tornará a extraordinária mulher de todos.
O humor, aliás, está praticamente ausente em O Padre e a Moça, dado incomum na filmografia posterior de Joaquim Pedro, e mesmo em seus filmes anteriores (se bem que trata-se de um humor retraído), como O Mestre de Apipucos, O Poeta do Castelo e – principalmente – Couro de Gato.
Em O Padre e a Moça temos apenas um momento em que o humor joaquiniano revela-se mais claramente: é a cena em que Mariana observa o padre atravessar uma rua cercado de várias das deformadas beatas, que não páram de fofocar e de se queixar a ele sabe-se lá o quê. Eis, então, um padre cercado de mulheres ou, talvez, um cristo desavisado numa espécie de crucificação paroquial. Mariana vem, por sua vez, atravessando a rua em sentido oposto, pára e observa a cena. O comentário musical, o grotesco da imagem, o falatório esganiçado das velhas, os passos apressados e o rosto sério (quase em surdo desespero) de Paulo José e, principalmente, a forma como essa cena está encaixada no conjunto - em meio a uma série de sutis reflexões sobre as impossibilidades amorosas de cada personagem -, tudo isto quebra o protocolo de seriedade imposto por Joaquim ao seu próprio filme. Liberdade consentida, mas, ainda assim, reveladora de um estilo futuro.
É importante ressaltar, ainda, em relação à citada cena da estrada, a magistral combinação entre os enquadramentos e a forma como os planos são montados. Uma série de panorâmicas seguindo o padre em direções contrárias chocam-se em planos sucessivos, numa clara alusão à confusão mental do personagem. Ao mesmo tempo, estas imagens conflitantes já traduzem a própria idéia de indefinição e, enfim, de falta de rumo. Quando finalmente o casal se entrega e se ama, não há mais horizonte à frente, mas as montanhas rochosas que os cercam, como a exprimir uma prisão quase intransponível. O Padre e a Moça, apesar de sua intenção libertária, mergulha numa estranha auto-punição. Tal como o Carlos de São Paulo S.A., os personagens retornam à cidade, talvez porque dela (e de todo o atraso que ela representa) não possam escapar. Há uma atitude heróica e, ao mesmo tempo, suicida (ou conformista?) nesta volta. De qualquer maneira, o casal acaba por se refugiar na caverna dos inconfidentes, queimando em meio às chamas da inquisição...
O Padre e a Moça fala, portanto, de uma incapacidade de superar certos entraves sociais e morais essencialmente subdesenvolvidos. As saídas podem ser a loucura, a morte, o confinamento ou a fuga. Mas a estagnação está dentro e fora dos personagens, e define, tristemente, um modo de ser. Esta ligação estabelecida pelo filme entre o drama amoroso e a tragédia social ganha especial colorido em O Padre e a Moça e é, até hoje, tema raro em filmes brasileiros. Neste sentido, aliás, valeria estabelecer relações entre Uma Vida em Segredo, de Suzana Amaral e o filme de Joaquim, como dois belos momentos distantes e, ao mesmo tempo, próximos de análise intimista do atraso.
Luís Alberto Rocha Melo
1. Revista Civilização Brasileira n. 07, transcrita em O Processo do Cinema Novo - ed. Aeroplano, 1999