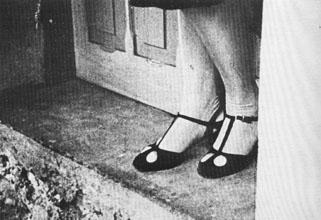
O mito da genialidade: LIMITE
Se de um lado da vacilante memória cinematográfica brasileira está a canonização da verborrágica invencionice Glauberiana (e de seu Deus e o Diabo), de outro, está a mitológica introspecção criativa de Mário Peixoto e de sua única obra finalizada: Limite. O contraste entre a persona desses dois criadores (um que fazia tudo para aparecer, outro que fez tudo para se esconder até a velhice) tem (cada um em seu lado da disparidade) uma característica que ajuda a entender a forma como esses dois filmes parecem ter sido elevados acima de uma ordem comum do cinema e dos filmes "mortais" (assim como outros filmes listados e intocáveis). Esse aspecto de mitificação das personas de seus diretores se reflete totalmente no resultado dessa nova pesquisa realizada por Contracampo, onde ambos estão novamente no topo da lista dos mais de 100 votos pesquisados:
O que é preocupante, a meu ver, é que os dois mitos, como boas divindades que se prezem, parecem se ignorar profundamente em seus Olimpos de cinema. Como que sentados em nichos intocáveis, tronos separados, Deus e o Diabo e Limite reinam na ignorância. Ignorando um ao outro e também grande parte de uma cinematografia nacional que beira ao abismo do esquecimento. Onde quero chegar? No problema maior dessa divinização dos dois maiores ícones do cinema brasileiro – o distanciamento do Cinema de sua própria forma de vida, de sua própria vivência: o público, o boca-a-boca, o espaço propriamente dito do cinema que só se faz em sua Imaginação na tela e nos olhos do espectador. Divinizados, esses filmes ganham o caráter de relíquias as quais apenas poucos (crítica e público mais especializado) seria capaz de absorver.
Divinização que, ao contrário de valorizar o já vacilante cinema produzido em nosso país, parece servir como uma névoa interpretativa e que delimita, por exemplo, em Limite, o grande e definitivo filme do cinema mudo brasileiro, o grande acontecimento genial de toda uma era do cinema nacional (como se inúmeras obras e realizações não estivessem ainda perdidas nos porões dessa nossa preguiçosa memória cinematográfica). A construção do mito desvaloriza o próprio filme de Peixoto, faz dele um ícone inerte impossibilitado de se sujar com o próprio cotidiano nacional, seja pensando-se no momento de sua realização, seja pensando-se em sua presença nos dias de hoje.
Colocar o filme num pedestal é enclausurá-lo num museu da nossa memória de Cinema, é transformar o filme numa espécie de mistério emerso da genialidade de um jovem angustiado (o documentário de Sérgio Machado, Onde a terra acaba, recém-apresentado no É Tudo Verdade, é um exemplo de recaída nesse mesmo erro e será melhor discutido na pauta do próximo mês). Esquece-se dessa forma, da conjuntura cinematográfica brasileira da época, esquece-se do contexto e do modo como o filme foi gerado, construído. Limite é colocado como uma espécie de fenômeno inexplicável, como um espasmo de genialidade de um ser humano excepcional... Caímos novamente nesse equívoco histórico de só se pensar o cinema nacional em termos de espasmos cíclicos, como se não houvesse relação entre um momento e outro, como se ao invés de um desencadeamento histórico, só houvessem atos e fatos isolados dentro de nosso Cinema – e isso é extremamente perigoso...
Perigoso por criar uma tradição eternizada de gerações órfãs de cineastas – cada nova leva de realizadores parece sofrer do estigma de surgir de um nada, de ter de criar a partir de um zero que, obviamente, não existe. Já é hora dos que pensam e se importam com o cinema brasileiro perceberem que nunca haverá fortalecimento de uma cinematografia se não aprendermos a assistir e a pensar o já passado não mais como o ultrapassado mas como nossa matriz de criação. O isolamento de Limite é mais um fator que revela essa pobre tradição: transformar um filme em um evento isolado que de tão especial corre o risco de se tornar estéril.
Não é difícil se ouvir o discurso de que o cinema nacional está em dívida com o filme de Mário Peixoto. O que se esquece, porém, é que essa dívida vai muito além do que se diz. Nossa dívida não é com um filme apenas, mas com grande parte do acervo e da história do cinema brasileiro – o desconhecimento de nosso público atual das obras de diversos de nossos cineastas passados, e ainda vivos, é um dos maiores erros de nossa frágil política de valorização de nosso cinema. São raras as retrospectivas de nossos cineastas, são poucos os cuidados com nossos acervos fílmicos.
A transformação de Limite em ícone gigantesco de nosso cinema mudo, não questionando aqui os valores intrínsecos ao filme, ajuda a imergir em total esquecimento grande parte de todo o resto de nossa produção da época. Perdidos para sempre ou em processo de esquecimento, o cinema nacional não pode se ater a essas unanimidades e esquecer de toda a gama de produções nacionais que está condenada ao limbo. Da mesma forma que se descobre e se restaura um filme imperdível como Limite, outros filmes únicos e excepcionais podem estar ainda vagando nos limites de nossa memória parca. É preciso pensar a especialidade de Limite não como um fator determinante final, mas como uma lição de que o cinema nacional pode ir muito além dos títulos já canonizados pela crítica que, como uma espécie de ditadura da imagem, impõem uma história brasileira de cinema onde apenas os seus escolhidos não só brilham como, efetivamente, existem.
Assistir a Limite como o símbolo de um passado belo e inalcançável, como uma linha perdida de nosso Cinema, é uma covardia e um simplismo. Filmes não emergem do vazio, suas ditas "genialidades" são frutos de conjunturas e influências que, mesmo não facilmente mensuráveis, não podem ser ignoradas. Ao invés de se mitificar a liberdade e a espontaneidade com que Limite foi realizado, deve-se pensar que fatores circunstanciais, que influências promoveram essa liberdade impressionante e sua inventividade; para que possamos pensar um pouco mais em nossa atual pobreza criativa no cinema não como uma realidade inelutável, mas como efeito de uma conjuntura atual que pode e deve ser questionada em suas origens. O maior valor de Limite não está apenas em seu magnífico resultado final na tela, mas em seu modo de realização propriamente dita.
Passando pela amizade entre a equipe de filmagem e seu modo de criação improvisada, até chegarmos à liberdade do diretor de só ter de prestar contas a si mesmo e a seu público; o contraste com os dias atuais de mendicância por verbas e profissionalização obtusa, é gritante. O mistério da inventividade de Limite, portanto, talvez não seja assim tão obscuro como se gostaria; talvez seja apenas doloroso demais percebermos o como estamos hoje distantes daquele momento (e das condições de criação daquela época) que deram fruto a um filme tão excepcional e indispensável à história de nosso cinema.
Felipe Bragança